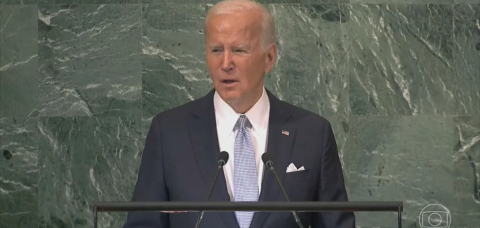Agência Brasil
A 5ª Bienal do Livro Minas chega neste sábado (23) a seu último fim de semana. Até o encerramento do evento, hoje (24), mais de 200 mil pessoas deverão ter passado pelo galpão da Expominas, no bairro Gameleira, em Belo Horizonte. Cerca de 160 expositores participam da bienal, que começou no dia 15 deste mês, e é o principal evento literário de Minas Gerais.
O destaque desta edição é o Café Literário. Neste sábado (23), o espaço recebeu o jornalista e escritor Zuenir Ventura, autor de livros como 1968: O Ano que não Terminou, Cidade Partida e o recém-lançado Sagrada Família. Agora à noite, o escritor participa da mesa Memórias da Resistência, que discutirá a importância de se registrar a memória individual e coletiva por meio da literatura e da arte.
“Será uma conversa sobre a necessidade que o país tem de olhar para trás e revisar o passado para não repetir seus erros. É importante ter o passado sempre como lição, e não como exemplo”, explica Zuenir. Sua fala deixa transparecer que, inevitavelmente, ganharão relevo em sua exposição paralelos entre 1968 e os acontecimentos mais recentes da política brasileira.
1968: O Ano que não Terminou é um livro que resgata episódios de um dos períodos mais conturbados da história brasileira. O acirramento dos ânimos entre a ditadura militar e seus opositores culminou na edição do Ato Institucional n°5 em 13 de dezembro de 1968. A medida permitia ao governo determinar o recesso do Congresso Nacional, proibir manifestações, cassar direitos políticos de qualquer cidadão e suspender diversas prerrogativas constitucionais, como a possibilidade do habeas corpus.
Se 1968 ainda não acabou, o período é recuperado por episódios curiosos ocorridos do ano de 2016, quando o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff provocou intenso acirramento político. O livro relata, por exemplo, o confronto entre estudantes da Universidade Mackenzie e da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP), na Rua Maria Antonia.
Neste ano, a Rua Maria Antonia voltou a ser palco de manifestações, e conflitos políticos entre estudantes foram novamente registrados em São Paulo, desta vez na Pontifícia Universidade Católica (PUC), onde a Polícia Militar fez uso de bombas de gás e balas de borracha para dispersar os presentes.
Além disso, uma peça teatral de Chico Buarque voltou à cena política. O episódio fez muitas pessoas lembrarem os violentos ataques do Comando de Caça aos Comunistas (CCC) aos atores da peça Roda Viva, que ocorreram em São Paulo e em Porto Alegre em 1968. No entanto, os casos são diferentes. Desta vez, em Belo Horizonte, o público protestou contra a postura de um ator que, em improviso, durante um espetáculo, criticou a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, Chico Buarque posicionou-se contra o ator retirando-lhe a autorização para seguir com a peça.
“Há paralelos com 2016, sem dúvida, mas o perigo é acharmos que a história se repete. Eu chamo a atenção dos jovens críticos aos atuais desdobramentos políticos do país, que acham que 1968 tem que se repetir. Não é exatamente assim. Nenhum dos lados pode copiar 1968. 1968 tem que ser lição para todos”, alerta Zuenir.
O escritor lembra das grandes manifestações que ocorreram às vésperas da Copa das Confederações, em 2013. “Os grupos que saíram às ruas em 1968, e hoje ainda saem quebrando caixas de banco como se estivessem destruindo um símbolo do capitalismo, não fizeram avançar a história. Eles prejudicam um movimento de milhares”, analisou.
Paixões políticas
Para Zuenir Ventura, a história tem avançado mais pela evolução do que pela revolução. “Obviamente, há casos de revoluções que derrubam o passado, mas nem sempre conseguiram criar um futuro mais promissor. A ruptura provoca mudanças e, às vezes, essas mudanças são retrocessos. Em 1968, houve retrocesso. E a conquista da democracia acabou sendo possível pela evolução e não pela revolução.”
Com a autoridade de quem reviu em minúcias fatos importantes do período militar, as opiniões do escritor sobre eventos políticos emblemáticos do Brasil despertam curiosidade, mas evita fazer comentários. “Não quero fazer avaliação nenhuma porque vejo o país todo dividido. Lamento a intolerância e o ódio e venho tentando manter, nos meus artigos, uma equidistância.” Segundo Zuenir, muitas pessoas dizem que ele precisa sair de cima do muro. “Eu respondo que, em determinados momentos, para um observador como o jornalista, a melhor posição é exatamente em cima do muro, onde se enxergam os dois lados.”
Em sua opinião, só o tempo poderá dizer se o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff é legítimo ou se configura com um golpe. “Daqui a 20 anos haverá uma versão depurada do momento que vivemos. O tempo depura muita coisa e, longe das paixões do momento, vai se consolidando uma versão. Por exemplo, as pessoas têm plena consciência do que foi a ditadura militar, mas, em 1964, uma expressiva parte da população acreditava de verdade que era uma revolução. Hoje só pensa isso uma minoria pouco representativa.”
Justamente para se afastar das paixões, 1968: O Ano que não Terminou narra fatos que ocorreram duas décadas antes. “A análise histórica precisa ser realizada com perspectiva. Eu escrevi o livro com 20 anos de distância dos episódios. Teve gente que falou que eu fui muito generoso com os generais, mas eu só não quis passar no livro a atmosfera de paixões daquele momento. O [escritor] Nelson Rodrigues, por exemplo, que é um gênio, apoiava os militares e gozava muito os estudantes. Ele era odiado e, em determinado momento, eu também o odiava. Então, ter 20 anos de distância para escrever essa história foi bom pra também poder encarar as versões dos diversos lados.”
Realidade e ficção
Na mesa, o jornalista teve a companhia do historiador e escritor Rodrigo Lacerda, neto de Carlos Lacerda, que lançou há três anos o romance A República das Abelhas, que busca fazer um retrato do avô. Diferentemente do que fez com 1968: o Ano que não Terminou, quando se baseou apenas em testemunhos, para o romance Sagrada Família, lançado em 2012, Zuenir Ventura recuperou fatos históricos, mas usou personagens fictícios – o pano de fundo são acontecimentos reais dos anos 40. “A linguagem do romance e da ficção é mais sedutora do que a linguagem do jornalismo. No jornalismo, trabalhamos apenas com substantivos e verbos.”
Ao mesclar ficção e fatos reais, Zuenir diz que faz jornalismo literário. “Há duas maneiras de realizar esse modelo. Uma é utilizar recursos linguísticos de ficção e romance para contar a história, mas sem ficção. Foi o que fiz nos relatos sobre 1968. Eu fiz de 200 a 300 entrevistas. Usei em todo o livro o pronome eu uma vez só. Eu uso os testemunho de outras pessoas. A outra maneira é criar memórias inventadas, mas que se encaixem em determinado contexto, como é o caso de Sagrada Família.”
Quadrinhos e cosplay
Em busca de um ambiente para variadas faixas etárias, com diversos tipos de linguagem, a Bienal do Livro Minas deste ano tem como atração o Espaço Geek & Quadrinhos. “A cada dois anos, passamos pelo desafio de montar uma nova Bienal do Livro que surpreenda o público e o aproxime da leitura. Este ano, demos mais voz à literatura dirigida ao público jovem, que tanto tem atraído essa turma para o mundo da fantasia, gerando livros campeões de venda e revelando novos escritores”, diz a diretora do evento, Tatiana Zaccaro.
Na quarta-feira (20), o cartunista e roteirista Arnaldo Branco bateu um papo sobre como transformar romances clássicos, filmes ou outras formas de linguagem em quadrinhos. Ele já adaptou para esse formato obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Arnaldo Branco diz que existe abertura do mercado para esse produto literário. “Nisso podem surgir trabalhos muito interessantes. Muitas vezes, o que se adapta para os quadrinhos é algo que já tem uma predisposição à adaptações. Boa parte dos filmes clássicos saíram de livros. Ou seja, o quadrinho é só mais um meio de apresentar uma história, explorando novas características.”
Outra forma de linguagem que vem atraindo a atenção do público é o cosplay, termo que tem origem nas palavras inglesas costume e que significa brincar de se fantasiar. Trata-se da atividade na qual os adeptos se vestem de personagens de filmes, desenhos, jogos etc. E o que começou como uma brincadeira, já é negócio para muita gente. É o caso de Júlio César Santos, de 23 anos, artista plástico que trabalha confeccionando e vestindo cosplay.
“Começou como brincadeira, criando fantasias com coisas velhas em casa. Aos poucos, fui evoluindo e buscando informações na internet sobre como aprimorar as confecções. Começou a ter uma procura e aí eu decidi investir na área e transformá-la na minha fonte de renda”, explicou. Santos tem atendido pedidos de diversas regiões do país e até mesmo de países da América do Norte. “É um setor que tem futuro. O cosplay está muito cotado em eventos degames e em lançamento de livros.”
E há quem prefira usar o cosplay como atividade não rentável, como Dani Ayala, fã da série de filmes Star Wars, que atua de forma voluntária e é presidente do fã-clube Conselho Jedi Minas, fundado em 1999. “Com essa brincadeira do pessoal se vestir, começamos também a fazer trajes e, desde 2008, nós nos apresentamos com réplicas.Por causa dos direitos autorais, porém, não atendemos a iniciativa privada.” De acordo com a autorização da Disney, a turma faz apresentações em eventos públicos, feiras culturais, praças. “É tudo voluntário e até o investimento nos trajes sai do nosso próprio bolso”, explica.